Regulação bancária e o dilema do jogo não cooperativo
Toda forma de regulação está sujeita ao que se pode invocar de “dilema da rossio pública”. Esse dilema é ilustrado pela seguinte metáfora: uma vez que a rossio é um espaço coletivo, pode ser percebida tanto uma vez que pertencente a todos quanto uma vez que pertencente a ninguém. No primeiro caso, os usuários cuidam do espaço, cooperando entre si, e o dispêndio de manutenção é inferior. No segundo, prevalece o imprevidência e o dispêndio de manutenção se eleva significativamente, já que ninguém se sente responsável por sua preservação.
Esse dilema aplica-se diretamente à relação entre bancos e reguladores. No Brasil, essa relação é, em grande medida, caracterizada uma vez que um jogo não cooperativo. Enquanto bancos e investidores atuam orientados pela lógica da maximização dos lucros — muitas vezes assumindo riscos excessivos — os reguladores têm uma vez que missão resguardar a segurança do sistema e proteger o interesse público. Esse desalinhamento de objetivos gera uma tensão uniforme.
Essa tensão se intensifica porque bancos e investidores qualificados sabem que os reguladores farão o provável para evitar um colapso financeiro. Essa expectativa reforça comportamentos oportunistas, que negligenciam os riscos sistêmicos. A crise do subprime, em 2008, é um exemplo emblemático. Instituições financeiras nos Estados Unidos e na Europa realizaram operações altamente arriscadas com ativos tóxicos, confiantes de que, por representarem riscos sistêmicos, seriam socorridas pelo Estado — o que de vestimenta ocorreu com resgates bilionários. A lógica do “grande demais para quebrar” foi, assim, reforçada.
Entre as ferramentas de regulação, a mais conhecida e explorada pelo mercado é a chamada rede de segurança, composta principalmente por dois mecanismos: o emprestador de última instância — normalmente o banco medial — e o fundo garantidor de crédito. Essa rede é geralmente acionada em situações de iminente colapso, uma vez que medida emergencial.
O banco medial atua uma vez que emprestador de última instância em momentos de pânico ou crise de liquidez, fornecendo suporte financeiro temporário a instituições solventes. Já o fundo garantidor protege os depósitos dos pequenos poupadores, reforçando a crédito no sistema e prevenindo corridas bancárias. No entanto, ambos os instrumentos, se mal utilizados, podem gerar incentivos perversos, estimulando ainda mais o comportamento de risco que deveriam inibir.
Um exemplo recente é o incremento dos investimentos em CDBs emitidos por bancos de baixa reputação: atraídos pelas taxas elevadas e pela garantia do FGC, muitos investidores direcionam recursos a essas instituições, que expandem suas carteiras de crédito de forma arriscada e acabam por sobrecarregar a atuação do regulador — um típico comportamento não cooperativo.
Nesse contexto, a supervisão prudencial adquire papel medial. Seu objetivo é identificar e mitigar riscos antes que eles se transformem em crises. Atualmente, essa supervisão se organiza em três abordagens principais: a microprudencial, que foca na solidez de cada instituição individualmente; a macroprudencial, desenvolvida depois a crise de 2008, que monitora riscos sistêmicos; e a micro-macroprudencial, abordagem mais recente, que integra dados macroeconômicos com clusters bancários, permitindo uma visão mais refinada dos riscos intersetoriais.
Porém, a eficiência dessa supervisão depende não exclusivamente da conhecimento técnica ou da autonomia dos reguladores, mas também — e talvez principalmente — da postura dos regulados. Quando instituições financeiras e investidores buscam sistematicamente brechas regulatórias para ampliar seus ganhos, em detrimento da segurança do sistema, o dispêndio da supervisão aumenta consideravelmente. O resultado é um jogo de “gato e rato”, em que os bancos e investidores estão sempre detrás de inovações e artifícios criados para evadir da disciplina, visando encontrar formas de se beneficiar via formas de arbitragem regulatória.
Em uma sociedade madura — na qual todos se sentem corresponsáveis pelo bom funcionamento das instituições — a disciplina de mercado torna-se uma poderosa aliada do regulador. Investidores evitam empregar recursos em bancos com reputação duvidosa e os próprios bancos evitam práticas oportunistas, mesmo diante da existência de garantias públicas, uma vez que o fundo garantidor.
Mais do que a simples capacidade de fechar brechas ou antecipar desvios, é o jogo cooperativo entre reguladores, investidores e bancos que pode fortalecer o sistema financeiro.
É por isso que cresce a atenção dada à transparência nos relatórios de bancos e empresas. Secção-se da premissa de que a divulgação clara e padronizada de informações induz a compromissos públicos, facilita o escrutínio público e estimula comportamentos alinhados com o muito coletivo. Nesse sentido, a transparência não é exclusivamente um princípio regulatório: é um instrumento de urbanidade econômica, capaz de proteger tanto o sistema quanto seus usuários.
No termo das contas, o sistema financeiro só será verdadeiramente inabalável e eficiente quando os incentivos privados forem compatíveis com o interesse público. E para que isso ocorra, são necessárias mais do que regras: é preciso cultura institucional, moral e cooperação.
** Professor e Pesquisador do Coppead, perito em Banking, com artigos publicados em diversos periódicos internacionais. Atua no Banco Medial do Brasil na dimensão de segurança financeira, com experiência em regulação e supervisão bancária. *
* A opinião do responsável e não representa necessariamente a do Banco Medial do Brasil
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2023/s/S/663bKoSVAUCAc8kUIJkQ/claudiodemoraes-colunista.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2023/L/5/5osHA7RtmovT6ovQs5Mg/whatsapp-logo-whatsapp-icon-whatsapp-transparent-free-png.webp?ssl=1)
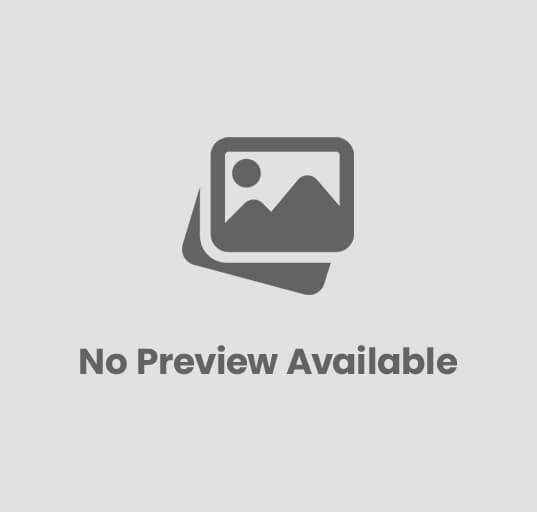
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2025/c/j/M5NTXrQWGBBrzUfAgi1g/img-0164-1-.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2019/B/8/kejBT0QMiGJ0ehKleBKQ/christian-wiediger-rymh7ezpqrs-unsplash.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
Publicar comentário