Será que só Donald Trump rejeita transparência?
O presidente americano Donald Trump trouxe recentemente a teoria de ultimar com a publicação trimestral de balanços pelas companhias abertas nos EUA. Talvez eu tenha perdido alguma repercussão. Mas esperava que houvesse um levante dos investidores contra a proposta, o que não ocorreu.
E isso me fez lembrar de um tema que intriga já faz um tempo. Finalmente, os investidores querem ou não transparência?
Quando pensamos em mercado de capitais, normalmente o agente que precisa captar verba não é um fã da transparência. Ele não abre os números para o público — e para a concorrência — porque gosta. Ele só aceita ser transparente, e às vezes divulga até mesmo informações além das exigidas legalmente, porque percebe que esse ato vai aumentar seu mercê, seja por conseguir levantar mais recursos, ou por aumentar o valor da sua companhia.
Na outra ponta, em teoria, é o agente que vai “dar” o verba que exige transparência. É intuitivo. Em tese, quem empresta ou investe verba quer saber quem é o tomador ou a empresa emissora das ações, qual o racional de mercado do projeto, e ter aproximação frequente a balanços e reportes sobre a situação financeira do negócio. Tudo para medir a expectativa de receber o verba de volta com os juros, ou de lucrar com a valorização das ações.
Quando essa relação se dá no mercado “público”, há um componente a mais de transparência, que é o preço atribuído pelos demais agentes de mercado para os ativos.
Também na teoria, essa transparência sobre preço de mercado e facilidade de saída (liquidez) seriam atributos desejados pelo investidor.
Mas será que isso é verdade?
No Brasil, estamos vivendo a maior seca de IPOs em mais de 20 anos. Mas mesmo nos EUA as listagens em bolsa estão em níveis historicamente baixos.
E isso ocorre mesmo com os índices nas máximas históricas.
Uma vez que escolha à bolsa, as empresas estão se financiando por meio de operações de “venture capital” (VC) e “private equity”, a depender do estágio.
Mas elas só têm conseguido com sucesso recorrer a essa escolha porque há demanda dos investidores.
Será que eles aceitam por razão de grandes retornos? Não parece ser o caso. Um recente estudo divulgado pela plataforma Pitchbook comparou o retorno de vários tipos de investimentos privados (em ações, dívida, imóveis e venture capital) com o retorno de uma carteira tradicional de 60/40 nos EUA em janelas sucessivas de cinco anos entre 2000 e 2024. O investimento privado em ações e dívida adicionou 0,64% e 0,57% ao ano no resultado, ao passo que os segmentos de imóveis e VC pioraram o resultado em 0,29% e 1,21%, respectivamente.
Logo a pergunta é: se é para ter um retorno parecido, por que os investidores estariam abrindo mão de liquidez e transparência sobre preço?
Uma hipótese é que, ao ver grandes casos de sucesso na mídia, o investidor fique com a expectativa de dar a tacada certa e multiplicar o seu investimento por muitas vezes.
Mas vale um alerta na hora de confrontar o “valuation” de uma operação de private equity com o de uma empresa listada. No primeiro caso, na maior secção das vezes existe um novo investidor entrando com verba na companhia. Ele quer remunerar o mínimo provável, evidente, mas ele definitivamente gosta do case. E aí se faz o valuation de 100% da empresa com a emprego de uma regra de três sobre o valor de um aporte que às vezes representa um percentual pequeno do capital, em uma transação em que as duas partes têm uma visão positiva sobre o negócio.
Já na bolsa há milhares de investidores negociando, com interesses em prol ou contra que às vezes são marginais, e não necessariamente de investidores “envolvidos” com o negócio.
Esse distanciamento é bom para a liquidez, mas tem um lado negativo, e não só quando falta a figura de um acionista de referência mais próximo da gestão e com olhar estratégico de longo prazo. Porque esse protótipo nem sempre funciona porquê bom preceptor de preço, em privativo em situações de estresse — ainda mais num cenário de peso crescente de robôs operando.
E esse desconforto de ver a volatilidade, por vezes excessiva, é um problema da transparência.
A enorme adesão ao mercado de crédito privado no Brasil certamente tem porquê motor maior a distorção dos títulos isentos (que infelizmente não foi corrigida pelo Congresso). Mas a baixa transparência sobre o preço no mercado secundário, que seria um demérito, acaba sendo favorável ao resultado.
Num exemplo. Muita gente acha perigoso investir em títulos do Tesouro, com liquidez diária e preço sabido, por razão da marcação a mercado. Mas acha seguro investir em títulos de dívida de emissores que elas não conhecem a fundo, e sem liquidez, mas com o “mercê” de ter a marcação pela curva.
Esse “mercê” também atende aos interesses de agentes de mercado. No caso de private equity, a profusão de ETFs e o sucesso histórico do S&P 500 tornou difícil para os gestores vender um resultado que serpente taxas altas e que, na média, não bate o índice. Já quando vendem o serviço de investir em empresas fechadas, inacessíveis para o investidor final, eles mantêm certa competitividade — mesmo que daqui a dez anos o investidor descubra que perdeu para o S&P 500.
No caso da renda fixa cá no Brasil, para o gerente ou assessor que lida com o cliente no dia a dia, há mais tranquilidade em mostrar um extrato com um gráfico de risco que parece uma subida de serra, e não um eletrocardiograma — ainda que, porquê estamos vendo recentemente, essa escassez de risco sejas unicamente aparente.
Fica evidente para o investidor? Bom, quem é que gosta mesmo de transparência?
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/A/D/ZVVOR2TbKvR5LFU4QLFw/gettyimages-79671145.jpg?ssl=1)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/A/D/ZVVOR2TbKvR5LFU4QLFw/gettyimages-79671145.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
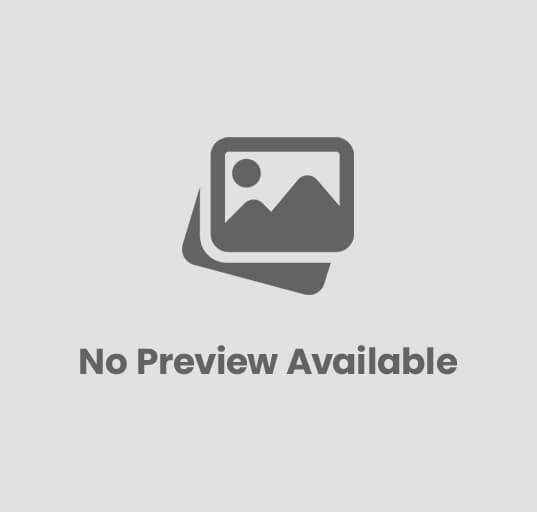
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2023/F/9/jUiFpaT96Wf5GLZutpaQ/gettyimages-1398379130.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2025/Q/g/AS6YklSVOC1XGmdthoBQ/e175-2.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)

Publicar comentário